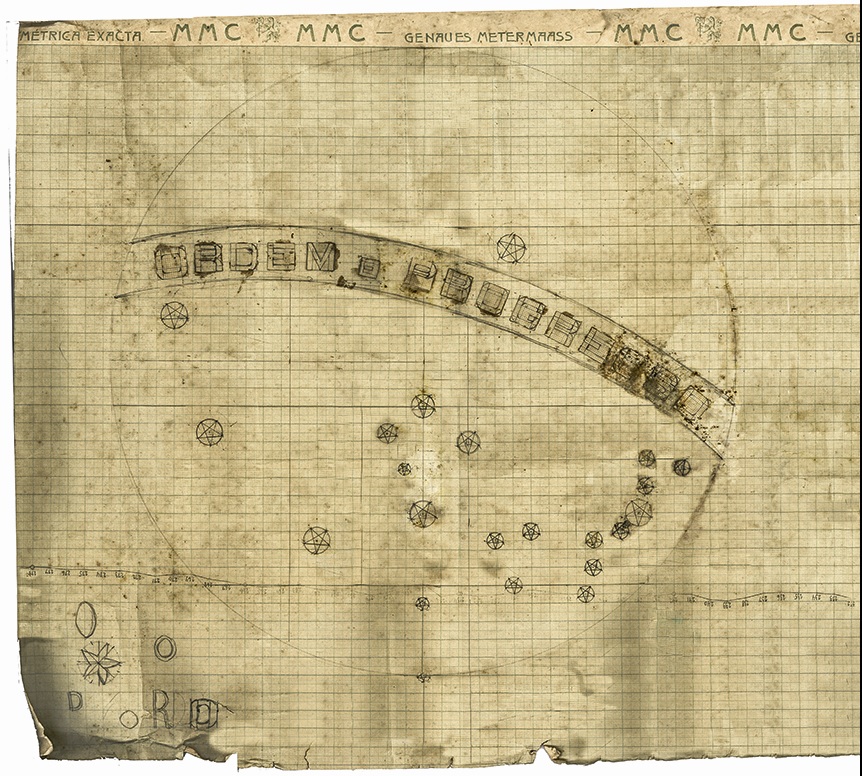O texto abaixo é um manifesto em favor de uma alteração profunda na sensibilidade, na mentalidade e nos comportamentos das elites brasileiras, no sentido de que voltem a preocupar-se com o conjunto da população e também com o desenvolvimento nacional. O que se tem visto nas últimas quatro décadas é a abdicação total de um projeto de desenvolvimento, querendo com isso que nossos problemas sociais magicamente desapareçam - isso, claro, quando as nossas elites têm, de fato, alguma preocupação com a população. Mas sem desenvolvimento nacional não teremos solução para os problemas sociais; isso não deveria nunca ter sido esquecido ou negado e, portanto, é urgente que as elites abandonem o ultraliberalismo especulativo e voltem a investir em projetos de desenvolvimento real.
Uma versão resumida do texto abaixo foi publicada na grande imprensa, em fevereiro de 2021; ela pode ser lida na postagem "Contra alguns mitos da 'reforma administrativa'".
* * *
A contra-reforma administrativa como ausência de projeto nacional de nossas péssimas elites
A tragédia global e nacional que caracterizou o ano de 2020
deveria reverter-se em várias lições para o conjunto da sociedade, pelo menos
no Brasil; entretanto, o início de 2021 já dá sinais de que nós, brasileiros,
teimamos em não querer aprender com nossos erros e com nossas tragédias. A
retomada, mais uma vez, da proposta de “reforma administrativa” é exemplar
nesse sentido.
A “reforma administrativa” prevê a alteração radical de
diversos dispositivos que regram a estrutura do Estado brasileiro, em
particular no que se refere à contratação e à manutenção de servidores. O
principal advogado dessa “reforma” é o Ministro da Economia, Paulo Guedes:
ultraliberal, em inúmeras ocasiões ele
já demonstrou desprezar os servidores públicos (considerados por ele como
“parasitas”), querer reduzir o Estado ao mínimo dos mínimos (de preferência
mantendo apenas a Casa da Moeda, o Banco Central e, claro, as Forças Armadas –
todo o “resto” sendo julgado desnecessário e envenenador da “iniciativa
privada”) e não ter nenhum problema em conjugar seu “liberalismo” com o
autoritarismo (não é por acaso que ele estima Pinochet). Para Guedes, os mesmos
servidores públicos que desenvolvem vacinas contra o coronavírus 2, que estão
na linha de frente do combate à pandemia, que mantêm a ordem pública, que em
condições dificílimas lecionam à distância no ensino virtual; enfim, para
Guedes, todos esses servidores públicos não são vistos como constituindo uma
infraestrutura pública indispensável à manutenção mínima de uma ordem social
que entenda os brasileiros como cidadãos, mas são apenas e tão-somente gastos
que devem ser reduzidos, quando não extintos, sem maiores preocupações além de
“não nos endividarmos”. Esse ultraeconomicismo de Paulo Guedes – que, no final
das contas, é apenas um economicismo simplista e rasteiro, totalmente
antissociológico e anticívico – é tão acentuado que ele considera a atividade
política (os debates públicos, as trocas de idéias, as disputas (pacíficas!)
entre grupos organizados) como impedimentos sistemáticos à produção econômica;
mesmo em termos de economia, para ele os verdadeiros agentes são apenas os
patrões: os sindicatos, nesse sentido, não são órgãos importantes de
representação de interesses legítimos, mas a institucionalização do
corporativismo mais grosseiro e do combate ao lucro privado, além de serem mais
uma forma de a “política” atravancar a “economia”; não por acaso, Paulo Guedes
sonha em proibir os sindicatos de servidores públicos e em demitir os
servidores sindicalizados!
Os valores profundos que orientam Paulo Guedes deveriam
bastar para convencer qualquer cidadão honesto e sensato de que a reforma
administrativa deve ser entendida com extrema cautela, especialmente quando se
afirma que ela buscará maior eficiência administrativa. Na verdade, há muito
tempo já virou um chavão dizer-se que os problemas do serviço público são de
“gestão”: “choque de gestão”, “fazer mais com menos”, “apertar o cinto” – essas
e outras frases feitas inundam periodicamente as páginas de jornais e os
discursos políticos, em particular durante campanhas eleitorais. A imprecisão e
a vagueza dessas expressões, somadas à impressão de modernidade que elas
sugerem, garantem parte do seu sucesso; a busca de “criticidade”, o uso
sistemático de sofismas e vários exemplos (ainda que dispersos e
descontextualizados) completam o quadro.
Comparando
os trabalhadores públicos e privados
Como dissemos no início do artigo, o ano de 2020 deveria
dar-nos inúmeras lições a respeito, tanto negativas quanto positivas; mas, no
fundo, o governo Bolsonaro, desde o seu início, também tem sido pródigo em
importantes lições para o encaminhamento da “reforma administrativa”. Senão,
vejamos.
Em primeiro lugar, não se pode dizer que o Estado brasileiro
é “grande demais”; na verdade, seja em termos de quantidade de servidores
públicos, seja em termos de gastos com pessoal, o Brasil está longe de ser
“grande”. O tamanho do Estado tem que ser medido pela quantidade e pela
qualidade de serviços públicos prestados: ora, por qualquer parâmetro, o que se
percebe é que a estrutura pública disponível para os serviços públicos é
insuficiente para as necessidades nacionais (cf. IPEA, s/d; CARDOSO JR., 2011;
LASSANCE, 2017; PIRES, LOTTA & OLIVEIRA, 2018). Os serviços mais evidentes
já o ilustram: professores, médicos, enfermeiros, peritos previdenciários etc.,
sua quantidade está longe de ser suficiente. Os problemas suscitados pela
pandemia de covid-19 estão escancarando essa insuficiência brutal.
Mas as necessidades públicas supridas pelos servidores
públicos não são todas, nem necessariamente, de entrega imediata: basta
pensarmos nas pesquisas científicas feitas nos laboratórios nacionais, que
buscam desde vacinas totalmente nacionais contra o coronavírus até técnicas
mais baratas e eficientes de produção de álcool 70%; ou, então, as pesquisas de
longo prazo e a fundo perdido feitas
pela Petrobrás para a extração do petróleo na camada pré-sal; ou as pesquisas
feitas pela Embraer para o desenvolvimento de uma indústria aeronáutica
nacional de ponta: esses são apenas alguns exemplos banalizados e que deveriam
ser levados mais a sério.
Os exemplos acima deveriam lembrar-nos de que as
necessidades sociais brasileiras não são pequenas, não são de curto prazo nem
são estritamente econômicas; inversamente, isso lembra (ou deveria lembrar) que
o Estado brasileiro não pode ser entendido meramente como o “regulador neutro
do ambiente de negócios”; como representante prático e realizador concreto do
“interesse nacional”, o Estado tem a obrigação de realizar mudanças necessárias
na sociedade (em conformidade com a opinião pública, claro está) e também a de orientar
em grandes linhas a atividade econômica. Entretanto, desde a crise da dívida na
década de 1980, progressivamente o Estado brasileiro abdicou de sua função de
orientar os rumos do país: a abertura econômica indiscriminada e, em
particular, a abertura financeira são a expressão disso. Os resultados dessa
progressiva omissão pública nos rumos do país não poderiam ser piores: a
progressiva desindustrialização nacional, a reversão da economia brasileira à
condição de exportador de commodities
para os países mais industrializados (agora, em particular, para a China), a
diminuição brutal dos empregos de qualidade e a multiplicação de trabalhos cada
vez piores (cf. BENJAMIN, 2015)... embora em si mesma tenha sido chocante a
afirmação de Paulo Guedes de que o auxílio emergencial contra a pandemia
“revelou 38 milhões de miseráveis antes ocultos” (cf. CHAIB & URIBE, 2020),
o fato é que a omissão estatal após os anos 1980 é plenamente compatível com a
ignorância desses 38 milhões de subcidadãos.
Os servidores públicos, portanto, têm um papel central na
realização de algo que está meio fora de moda, mas que deveria voltar aos
debates públicos: um “projeto de país”. É claro que a centralidade dos
servidores no projeto nacional deve ser entendido tanto como a descrição de um
fato quanto o enunciado de um juízo de valor, ou seja, os próprios servidores
públicos têm que se compenetrar de sua importância para o país e adotar essa
relevância como um verdadeiro guia ético para suas condutas profissionais.
Passamos, então, à estabilidade dos servidores: simplesmente
não se deveria pô-la em questão. A perseguição político-ideológica, realizada
com freqüência de maneira raivosa, levada a cabo pelo governo Bolsonaro (a bem
da verdade, como é de conhecimento público, realizada em inúmeras vezes pelo
próprio Presidente da República!) é a própria justificativa para a existência
da estabilidade. Não se trata de um “privilégio” do funcionalismo público, que
se erige em casta, contra a instabilidade do setor privado, mas a garantia de
que os servidores públicos exercerão um serviço profissional e, ainda mais, que
eles não estarão sujeitos aos humores dos governantes do momento. Desde 2019
assistimos no Brasil à demissão de Ricardo Galvão do cargo de Presidente do
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), à exoneração de José Olímpio
Augusto Morelli da chefia do Centro de Operações Aéreas do Ibama (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente) e a muitas outras situações semelhantes apenas
porque, no primeiro caso, o servidor divergiu publicamente de afirmações do
Presidente da República e de seu entorno palaciano e, no segundo caso, porque o
servidor cumpriu o seu dever e multou o Presidente, então mero Deputado
Federal, por pescar em área proibida (em 2012): esses são apenas dois exemplos entre
muitos que ocorrem também em níveis inferiores e com menor visibilidade, em que
os servidores têm sido punidos porque os governantes em exercício não gostam
deles e que só não perderam os respectivos empregos porque são concursados e
gozam de estabilidade. (Eu
mesmo, se não fosse a estabilidade funcional, estaria correndo o risco de
demissão, apenas por manifestar minha opinião neste artigo.) Por fim, convém
lembrarmos o desejo – anticonstitucional, diga-se de passagem – expresso pelo
Ministro da Economia de demitir todos os servidores públicos que sejam
sindicalizados. (Referindo-se a outro ambiente e a outra época, o historiador
Richard Evans (2017) mostrou que o partido nazista expandiu-se no setor público
alemão e dizimou os outros partidos políticos, em particular o comunista e o
social-democrata, entre outras medidas, ao demitir sumariamente todos os
filiados a qualquer outro partido.) A estabilidade dos servidores públicos,
portanto, não é um luxo: é a garantia mínima de que eles poderão trabalhar para
o bem comum sem sofrerem pressões ilegítimas e imorais.
Também se afirma que os servidores públicos “ganham muito”,
com o juízo implícito de que tais “grandes salários” seriam ultrajantes. O
ultraje não está tanto no “ganhar muito”, mas na comparação com o setor
privado, cujos trabalhadores supostamente ganhariam bem menos. O problema é que
essa comparação é extremamente superficial, tomando-se uma simples média
aritmética dos gastos do setor público com alguma média do setor privado;
assim, comparam-se duas coisas que, aparentemente, seriam homogêneas, quando,
na verdade, elas não são homogêneas (cf. IPEA, s/d; ROSSI & BUONO, 2020).
Vale notar que essa comparação baseia-se nas concepções, implícitas ou
explícitas, de que o setor privado corresponde ao “mercado”, que os salários
pagos pelo “mercado” são mais verdadeiros e que, por isso, os salários pagos no
setor privado são mais “justos”. Ora, isso está longe de ser verdade, em
particular porque a noção de salário justo é o que está na base da proposta do
salário mínimo – e todos sabemos que o salário mínimo oficial no Brasil é
violentamente baixo e que uma quantidade descomunal de brasileiros não recebe nem
esse salário mínimo oficial (são muitíssimos mais que os 38 milhões de
invisíveis do dr. Paulo Guedes).
Se as médias comparadas entre o setor público e o privado
não são homogêneas, é importante então as entender de maneira heterogênea.
Tanto em um setor quanto no outro, quem está no início de carreira recebe bem
menos que quem está no final da carreira; da mesma forma, quem exerce cargo de chefia
recebe mais que quem está nas posições mais humildes. O setor público, por um
lado, divide-se em três ou quatro poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário e
o Ministério Público) e em três níveis federativos (nacional ou federal,
estadual e municipal). Todos os estudos sérios sobre o setor público indicam
que a quantidade de servidores aumenta quando passamos do nível federal para o
nível municipal, mas que os salários pagos diminuem nessa mesma direção. Além
disso, o poder Judiciário e o Ministério Público têm salários muito maiores que
os do poder Legislativo e estes, por sua vez, são maiores que os do poder
Executivo. O poder Executivo, por sua vez, especialmente no âmbito federal, é
bastante heterogêneo: as Forças Armadas, os diplomatas, os servidores da
Receita Federal e mais algumas carreiras são regiamente pagas. Também vale
lembrar que algumas áreas são necessariamente grandes, especialmente aquelas
que lidam diretamente com a população: educação, saúde, previdência e
assistência social, segurança pública; além disso, há setores que são
intrinsecamente caros e custosos, como as áreas de infraestrutura e as de
pesquisa: tudo isso entra na conta do poder Executivo.
Aqui é importante notar que o setor público tem uma dinâmica
específica: a estabilidade no emprego permite que as carreiras desenvolvam-se
de maneira efetiva, isto é, que haja de fato carreiras profissionais,
caracterizadas pela ascensão profissional; tal ascensão ocorre a partir de
cursos que são feitos pelos servidores. É claro que o egoísmo pessoal tem aqui
seu papel: os servidores buscam subir na carreira porque isso se converte em
salários maiores – e é bom que seja assim. Do ponto de vista da utilidade
pública, isso significa que os servidores públicos podem de fato especializar-se
e ampliarem suas habilidades profissionais; mas, de uma perspectiva meramente
contábil e fiscalista, a maior qualificação dos servidores públicos é vista
apenas como correspondendo a mais gastos públicos! Quando se fala em
supersalários no setor público – e, o mais das vezes, a “reforma
administrativa” é defendida como sendo o instrumento necessário para
combaterem-se os “supersalários” – não é por acaso que eles ocorrem apenas no
poder Judiciário, no Ministério Público e na cúpula do poder Executivo federal;
ainda assim, a “reforma administrativa” terá efeito apenas no Executivo civil
federal, sendo completamente silenciosa a respeito das Forças Armadas e dos
outros três poderes.
O setor privado, como se sabe (ou como deveríamos saber),
tem outra dinâmica. Para começo de conversa, ele não investe de verdade na
qualificação dos trabalhadores: ele espera que haja trabalhadores qualificados
no “mercado” e que possam ser contratados; quando há “qualificação”, elas são
tópicas e de curto prazo. As qualificações de longo prazo, exatamente porque
são demoradas, não são realizadas pelo setor privado. Aliás, a constante busca
da “redução de custos” tem um efeito paradoxal e trágico, na medida em que há
trabalhadores superqualificados que, por isso mesmo, não encontram emprego,
pois custariam muito! A idéia de lealdade das empresas para com os
trabalhadores é algo que inexiste; como há apenas o “mercado” e a competição
entre as empresas, os trabalhadores mais velhos e mais qualificados – mais
caros – são mandados embora em benefício de trabalhadores mais novos, menos
experientes e, claro, mais baratos. (E, seguindo a lógica do dr. Paulo Guedes,
de preferência que não sejam sindicalizados.) Nesse sentido, o setor privado ou
privatiza a qualificação profissional mais exigente ou, então, alegremente se
beneficia dos investimentos feitos no e pelo setor público: não é por acaso que
os grandes programas de mestrado e doutorado no país são todos públicos (ou
pesadamente financiados pelo setor público).
A lógica do “mercado” é sempre a de achatar os salários.
Ora, esse achatamento ocorre na base, para a massa dos trabalhadores; no ápice
a tendência é de aumentos sucessivos, especialmente para os presidentes
(“CEOs”) e gerentes-gerais das empresas. Nesse caso, não se ouve falar em
“supersalários”, isto é, não há o tom de reprovação quando se usa essa
expressão para referir-se ao setor público; os cada vez maiores salários da
cúpula do setor privado são vistos como motivo de inveja e admiração. Tem-se aí
uma situação ambígua, para não dizer paradoxal ou hipócrita: enquanto os
“megassalários” da iniciativa privada são apresentados como o ideal de vida
para todos os que estão no setor privado, apenas alguns poderão gozar deles, ao
mesmo tempo em que a dinâmica salarial do setor privado, como vimos e como se
sabe, tende sempre a achatar cada vez mais esses salários.
Infelizmente, o problema é ainda pior do que estamos
indicando. A definição da omissão do Estado como projeto nacional a partir dos
anos 1980 resultou em que estamos fortemente vinculados aos fluxos
internacionais de capital especulativo e em que o país progressivamente se
desindustrializa (cf. BENJAMIN, 2015). Esses dois fatos conjugados resultam em
que no país temos cada vez menos investimento na economia real, isto é, na economia
que gera renda e empregos, e temos cada vez menos empregos, isto é, trabalhos
com carteira assinada, salários dignos e benefícios efetivos. A descoberta dos
mais de 38 milhões de “invisíveis” pelo dr. Paulo Guedes, em 2020, é exemplar a
respeito disso tudo: vinculado ao capital especulativo internacional, ele nunca
teve experiência concreta nem com políticas públicas nem, muito menos, com a
economia real; por outro lado, a dinâmica de financeirização do capital e de
desindustrialização do país resultaram em que um vago setor de “serviços”
ampliou-se dramaticamente nas últimas década, não porque tenhamos uma população
altamente qualificada prestando serviços de complexidade média a alta, mas
porque temos uma população que é pobre, ganha pouco, não consegue empregos e
meramente realiza serviços ou “trabalhos”, ou melhor, faz “bicos”: vende água
na esquina, trabalha como vendedor na alta estação etc. O grande símbolo disso
é o entregador de comida vendida por meio de aplicativos de celulares que vai
de bicicleta entregar o produto: recebe uma miséria, não tem estabilidade, não
tem benefício social nenhum e tem que usar os próprios recursos (a bicicleta)
para o trabalho; é a “uberização” do trabalho erigida como ideal social. Não é
que falte engenhosidade, operosidade ou industriosidade à população: o que
falta são políticas públicas que gerem emprego de verdade, um projeto de país
que se afaste do capital especulativo e uma elite que valorize o país (e não
seja nem autoritária nem seja cega para os “invisíveis”.)
O
anti-timing da reforma contracionista
Algumas palavras sobre o timing
da proposta de reforma administrativa são necessárias. Desde o governo Michel
Temer (2015-2018), as “reformas” são apresentadas como fundamentais e
imprescindíveis para que o Brasil deslanche em termos econômicos (nada se diz
sobre as liberdades públicas, sobre nossos padrões civilizatórios etc. – mais
deixemos esses temas “menores” de lado); mais do que isso: cada uma das
reformas é apresentada para a nação como a verdadeira reforma fundamental,
sem a qual o país não tem futuro e com a qual o sucesso será imediato e
garantido. Todavia, uma reforma após a outra fracassa completamente em conduzir
o país ao desenvolvimento e ao progresso; encerrada uma reforma, a próxima é
imediatamente alçada à posição de reforma fundamental, imprescindível e
bastante. Essa dinâmica política desmoraliza a noção de “reforma” e, com isso,
levanta a suspeita de que seu objetivo não é tornar o Brasil um país melhor,
mas apenas desmontar as instituições nacionais, em particular as estabelecidas
em 1988. Isso, por si só, já bastaria para levantar-se sérias suspeitas sobre a
atual proposta de “reforma administrativa”; os preconceitos políticos, sociais
e ideológicos do dr. Paulo Guedes aumentam ainda mais as suspeitas. Todavia, o
Brasil – como o mundo, aliás – atravessa a grave crise da pandemia, que será
seguida necessariamente por uma recessão ou, talvez, por uma depressão: se há
algo que o século XX ensinou é que crises desse tipo não podem ser enfrentadas
por políticas contracionistas, que visem a cortar os gastos públicos; sem
desperdiçarmos valiosos recursos, os gastos públicos terão que se aumentar ou,
pelo menos, manterem-se nos próximos anos. Ora, a “reforma administrativa”
claramente tem um objetivo contracionista – o que pode ser coerente com o
ultraliberalismo do dr. Paulo Guedes, mas que vai contra a história
político-econômica dos últimos 150 anos e vai contra também o interesse
nacional brasileiro.
Algumas
palavras sobre as elites brasileiras
Para concluir, uma palavra sobre as elites brasileiras. Ao
longo deste artigo fizemos diversas referências ao fato de que o Brasil não tem
um verdadeiro projeto nacional desde a década de 1980; a partir dessa época,
definiu-se que o país deveria integrar-se ao resto do mundo, por um lado saindo
do isolamento político em que se encontrava devido ao autoritarismo militar, por
outro lado vinculando-se aos fluxos econômicos internacionais, cada vez
maiores. A expressão “projeto nacional” e as decisões que orientaram o país na
direção da abertura político-econômica tornam-se vagas e muito abstratas –
metafísicas, na verdade – quando não se considera que o conjunto da população
e, em particular, as elites têm que encampar esses projetos, formulando-os com
clareza e implementando políticas públicas de acordo – políticas que devem ser
mais ou menos coerentes e que devem ser concebidas em termos de décadas, não
somente de anos ou meses. A abertura política dos anos 1980-1990 foi exitosa;
já a abertura econômica, como indicamos, foi bem mais problemática, em
particular porque ela consistiu na abertura unilateral e mais ou menos sem
critérios da nossa economia: as nossas elites apostaram no automatismo do
“mercado” para resolver os problemas sociais e econômicos, desvalorizando o
Estado no processo; a reação à valorização do Estado em termos
econômico-sociais, isto é, em termos de “projeto nacional”, era no sentido de
equivaler essa valorização ao autoritarismo, ao totalitarismo e, de qualquer
maneira, à ineficiência e ao desperdício.
A inabilidade política e, por isso mesmo, a inabilidade
econômica de Dilma Rousseff em um ambiente política cada vez mais polarizado –
em que tiveram grande (ir)responsabilidade tanto o PT quanto o PSDB – permitiu
a ascensão política e social do ultraliberalismo irresponsável e, no fundo, intelectualmente
alienado do dr. Paulo Guedes; ao mesmo tempo, o desgaste institucional permitiu
a ascensão de mais um político supostamente outsider
com propostas violentamente anti-establishment
– Bolsonaro. Provavelmente porque ambos eram rejeitados pelo establishment social-democrata dos
irmãos-inimigos PT-PSDB, mas também porque um precisava do outro, logo Paulo
Guedes e Bolsonaro passaram a apoiar-se; como se sabe pelo notório exemplo
chileno, as compatibilidades mútuas eram maiores do que a mera necessidade que
um tinha do outro e do fato de que ambos eram underdogs: o ultraliberalismo de Guedes é compatível e mesmo
precisa do autoritarismo repressivo e persecutório de Bolsonaro, enquanto este,
por seu turno, fica bastante à vontade com o capitalismo especulativo e
socialmente irresponsável de Guedes, desde que sua família, seu entorno
palaciano e seus apoios militares e paramilitares sejam satisfeitos.
A ausência de um verdadeiro projeto nacional desde os anos
1990 já indicava uma séria falha das elites brasileiras; mas era possível
argumentar, com tranqüilidade, que havia preocupações verdadeiras com o país. É
bem verdade que o PSDB era bem mais criticável a esse respeito que o PT; mas,
por outro lado, não somente o exclusivismo próprio ao PT (e a Lula em
particular), derivado do seu messianismo católico-comunista, dificultou ou
impediu a correção intelectual e moral das nossas elites a esse respeito, como
o PT, quando esteve no poder, não fez muito para alterar a situação. Assim, o
vazio de um projeto nacional das nossas elites manteve-se. Em 2018, o que era
uma falha tornou-se um buraco, ou melhor, uma retrogradação profunda em nossos
valores, com a aliança entre o ultraliberalismo e o autoritarismo delirante –
aliança que se viu vitoriosa. Essa vitória, claro está, não ocorreu por acaso e
nem no vazio; em particular, ela deu-se porque as elites brasileiras apoiaram a aliança retrógrada. Se em 2018 e
2019 as elites brasileiras decidiram pular no abismo, ou no esgoto, em 2020 o
que se evidenciou foi o completo desprezo dessas elites pela população: o apoio
meio cerrado, meio explícito às inúmeras tentativas de golpe de Estado pelo
próprio Presidente da República, à afirmada necessidade de um novo “AI-5” conforme
expresso pelo dr. Paulo Guedes, pelos filhos do Presidente da República, por
políticos da “base de apoio” e pelos ministros militares; da mesma forma, a
rejeição de muitos e muitos presidentes de grandes empresas das medidas mais
elementares de prevenção à pandemia de covid-19, bem como o apoio às sandices
do Presidente da República – tudo isso revela o quanto nossas elites estão
moralmente podres, o quanto estão muito abaixo das necessidades do Brasil.
Em qualquer momento, são as elites que comandam um país – em termos políticos e
econômicos, não há dúvida, mas também sociais, intelectuais e morais. As atuais
elites decidiram que o ultraliberalismo econômico, o autoritarismo repressivo e
persecutório, o desprezo pela vida e pela verdade são “aceitáveis”:
talvez em outras épocas e outros lugares essa combinação ao mesmo tempo
explosiva e degradante fosse aceitável, mas no Brasil após 1988 definitivamente
ela não é.
A “reforma administrativa” é apenas a mais recente proposta
de uma elite que está aquém das necessidades e das possibilidades brasileiras:
urgem novas elites e a rejeição dessa soi-disant
reforma!
Referências bibliográficas
BENJAMIN, César. 2015.
Desindustrialização – pode o Brasil sobreviver sem um expressivo setor
industrial? Boletim Conjuntura Brasil, Brasília, n. 2, out.
CARDOSO JR., José C. (org.). 2011. Burocracia e ocupação no setor público
brasileiro. Série “Diálogos para o desenvolvimento”, n. 5. Rio de Janeiro:
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
CHAIB, Júlia & URIBE, Gustavo. 2020. Guedes confirma auxílio emergencial por
mais dois meses e criação do Renda Brasil. Folha
de S. Paulo, 9.jun.
EVANS, Richard. 2017. A chegada do Terceiro Reich. 3ª ed. São
Paulo: Crítica.
HALLAL, Pedro C. 2021. SOS Brazil: Science under Attack. The Lancet, V. 397, n. 10272, Jan. 30. Disponível
em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00141-0/fulltext.
Acesso em: 22.jan.2021.
IPEA. s/d. Atlas do Estado brasileiro. Brasília: Instituto Econômico de
Pesquisa Aplicada. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/atlasestado/.
Acesso em: 4.fev.2021.
LACERDA, Gustavo B. 2020. Lamento por
uma burguesia abaixo do mínimo político-moral. Filosofia Social e Positivismo, 7.maio. Disponível em: https://filosofiasocialepositivismo.blogspot.com/2020/05/lamento-por-uma-burguesia-abaixo-do.html.
Acesso em: 4.fev.2020.
LASSANCE, Antonio. 2017. O serviço público federal brasileiro e a
fábula do ataque das formigas gigantes. Texto para Discussão n. 2287.
Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
LYNCH, Christian E. 2020. “Nada de NOVO
sob o Sol”: teoria e prática do neoliberalismo brasileiro. Insight Inteligência, Rio de Janeiro, ano 23, n. 91, p. 16-34,
out.-dez.
PIRES, Roberto; LOTTA, Gabriela &
OLIVEIRA, Vanessa E. (orgs.). 2018. Burocracia
e políticas públicas no Brasil: interseções analíticas. Brasília: Instituto
Econômico de Pesquisa Aplicada.
ROSSI, Amanda & BUONO, Renata. 2020. Quem ganha mais no serviço público. Piauí, São Paulo, 2.mar. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/quem-ganha-mais-no-servico-publico/.
Acesso em: 3.fev.2021.
THE
LANCET. 2020. COVID-19
in Brazil: “So What?”. V. 395, n. 10235, May 9. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31095-3/fulltext.
Acesso em: 3.fev.2021.