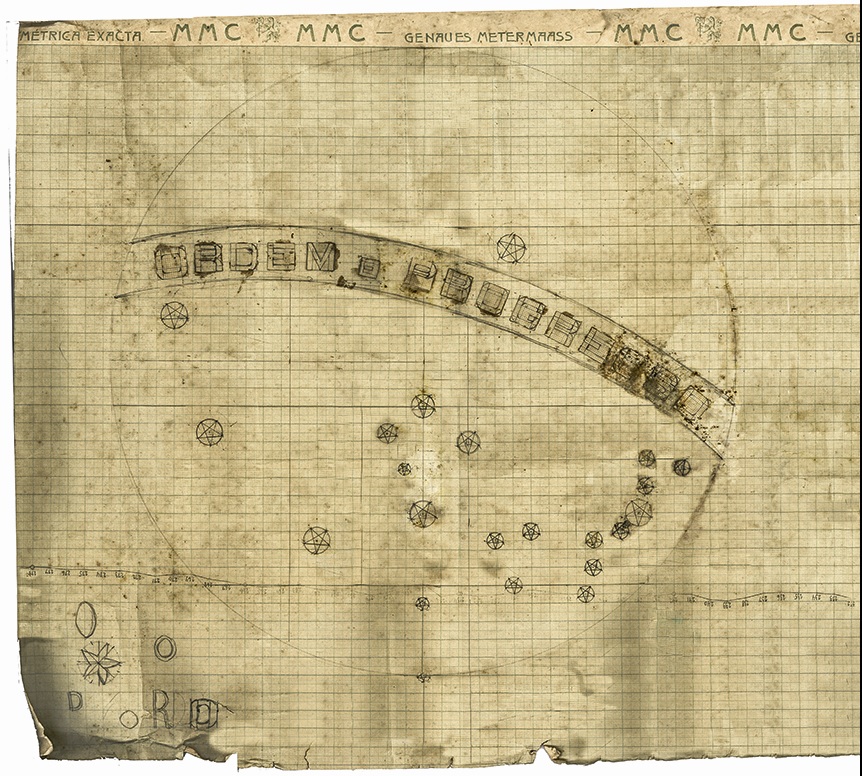O livro Passado imperfeito, do historiador Tony Judt (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2008), é muito interessante e suscita muitas reflexões; essas reflexões concernem tanto ao tema de que o autor trata quanto dos defeitos que o livro apresenta. Como não poderia deixar de ser, a forma como o autor cita Augusto Comte e o Positivismo é exemplar dos defeitos desse livro. Assim, por todos os motivos - positivos e negativos -, parece-me que vale a pena divulgar estas pequenas anotações sobre ele.
O livro pode ser comprado, entre outras lojas, aqui.
* * *
Sobre o livro Passado imperfeito, de Tony Judt
O livro expõe e critica, com base em um certo liberalismo, o comportamento dos intelectuais franceses nos dez anos que se seguiram à II Guerra Mundial. Na última seção do livro essas diversas escolhas são explicadas e justificadas: por que os franceses; por que os dez anos após a II Guerra; até mesmo por que o liberalismo. De modo geral, essas escolhas temáticas fazem pleno sentido: os intelectuais franceses costumavam ser a consciência moral e intelectual da Europa e, daí, do mundo; além disso, o período posterior à II Guerra foi o de acerto de contas com a devastação feita pelo nazismo (antes e durante o conflito). Mas, de modo mais importante, após a II Guerra ocorreu o início da Guerra Fria, o engajamento político estridente dos intelectuais, após uma atividade em geral apolítica e antipolítica até 1940 (ou, pior, até 1944, isto é, até a libertação da França pelos aliados), a adesão da maioria desses intelectuais ao comunismo (quer fossem, quer não fossem eles mesmos comunistas, incluindo aí muitos católicos e todos os existencialistas) e o conseqüente silêncio sistemático desses intelectuais às atrocidades stalinistas e/ou as justificativas mirabolantes que eles davam aos crimes stalinistas.
O argumento do autor em linhas gerais é simples e convincente: antes e durante a II Guerra, muitos intelectuais eram apolíticos ou antipolíticos; o conflito e a Libertação, com o acerto de contas político e moral dos colaboracionistas, acarretou uma crise de consciência dos intelectuais, levando-os ao engajamento; quanto maior a crise (e, antes, quanto mais irracionais e sem sentido os sistemas filosóficos esposados pelos intelectuais, como nos casos paradigmáticos dos existencialistas, Sartre e sua consorte à frente), mais estridente era o engajamento. Na conjuntura da época, esse engajamento era necessariamente esquerdista, na medida em que ele decorria, por um lado, da luta contra o fascismo e, por outro lado, da então recente aliança da União Soviética como “país democrático”. Entretanto, a má consciência dos intelectuais franceses, seja por sua atuação antes da guerra, seja por sua atuação durante a guerra, levou-os a serem cada vez mais radicais em seus engajamentos; a isso se associava também o antiamericanismo e uma valorização extremada da “francesice”: o resultado disso tudo foi uma valorização intensa e intensamente acrítica da União Soviética e uma desvalorização do “liberalismo”; assim, na década que se seguiu à II Guerra, a grande maioria dos intelectuais franceses silenciou-se a respeito dos crimes cometidos por Stálin e/ou pelo comunismo, quando não os justificaram das maneiras mais estapafúrdias possíveis. (Quais os crimes do comunismo? Invasão de países; antissemitismo; aprisionamentos, julgamentos e execuções arbitrárias e em massa; incoerências sistemáticas; censura sistemática.) Essa submissão dos intelectuais ao comunismo tinha elementos messiânicos e milenaristas, bem como de auto-rejeição: no que se refere a este último aspecto, os intelectuais afirmavam com todas as letras, em seus artigos e livros, que, como burgueses, eram desprezíveis e que precisavam do povo, ou do proletariado, para justificarem-se socialmente; por sua vez, o comunismo – e o Partido Comunista em particular – era o canal por definição desse acesso ao proletariado; entretanto, o próprio Partido Comunista (francês, no caso) era explicitamente contra esses mesmos intelectuais.
Esse quadro só mudou após a morte de Stálin, em 1953, e, ainda mais, após o “vazamento” do relatório de 1956 de Kruschev, no XX Congresso do PCUS, em que o novo líder soviético denunciava o culto à personalidade e os crimes de Stálin. O autor observa que, embora a partir disso os intelectuais franceses tenham-se “libertado” do comunismo (ou, pelo menos, tenham passado a “libertar-se” dele), tal libertação foi apenas dos próprios intelectuais, que não deixaram de adotar o mesmo comportamento em relação a outros temas – fosse o anticolonialismo (em face da independência da Argélia), fosse o terceiromundismo (em que a revolução comunista camponesa fora da Europa ganhava o espaço da admiração pelo comunismo europeu) – e, em particular, os intelectuais não passaram, após 1956, a mudar de comportamento em relação ao comunismo na Europa Oriental e na União Soviética: eles simplesmente abandonaram o tema do comunismo europeu (sendo, todavia, obrigados a enfrentá-lo novamente a partir de 1974 – embora o autor não esclareça o que teria ocorrido em 1974 na França).
A exposição que o autor faz das idéias e do comportamento dos intelectuais franceses entre 1944 e 1956 é o ponto forte do livro; essa exposição é organizada tematicamente. Não resta pedra sobre pedra do que ele expõe; os intelectuais franceses foram mesmo infantis e irresponsáveis.
Entretanto, há uma série de problemas metodológicos e teóricos no livro. Em primeiro lugar, o autor faz suas reflexões muito com base em literatura de segunda mão; embora ele cite com freqüência textos dos intelectuais franceses, tais citações com grande regularidade – talvez em pelo menos metade das citações – são obtidas em livros de outros pesquisadores, que já selecionaram as passagens que julgam importantes e interessantes; em outras palavras, o autor não fez de fato uma pesquisa sistemática sobre os originais. Em segundo lugar, embora à primeira vista possa parecer secundário, faltam exposições historiográficas elementares; por exemplo, não faria nenhum mal indicar aos leitores quando ocorreu a invasão nazista da França, a instalação do regime de Vichy, a tomada total do território francês pelos nazistas – ou, então, quando ocorreu o governo socialista de Léon Blum nos anos 1930 ou o que ocorreu na França em 1974.
Mas é nas explicações sociológicas e até psicológicas que o autor oferece para os comportamentos dos intelectuais franceses que estão os seus aspectos mais fracos. O autor argumenta que os intelectuais que atuaram após 1944 desprezavam o liberalismo; o conjunto de sua exposição parece confirmar com clareza esse diagnóstico; mas o autor recua até a Revolução Francesa, ou melhor, até o século XVII (até antes do Iluminismo!) para explicar esse desprezo. Ao tratar das tentativas dos liberais franceses de terem e manterem o poder, ele observa que eles fracassaram mas que a culpa pela falta de êxito do liberalismo na França, em última análise, seria da III República (1870-1940) e dos republicanos, que estavam mais preocupados em serem republicanos que em serem liberais. Ora, os liberais que ele defende eram monarquistas e parlamentaristas (Guizot e Tocqueville, por exemplo), ou seja, defensores da sociedade de castas, dos privilégios de classe, da censura, da repressão e até do colonialismo: nada disso é exposto pelo autor e, assim, muito menos entendido como defeito. Já os republicanos, preocupados em acabar com a instabilidade política e social que caracterizava a França desde 1789, são acusados de não serem liberais, apesar de garantirem as liberdades públicas e mesmo tendo que lidar com o reacionarismo da Igreja Católica e do Exército. Em outras palavras, se a França republicana estava preocupada em garantir a estabilidade e em ser moderna e com liberdades, isso não é problema do e para o autor; na verdade, isso é um defeito a ser criticado. Não é que os “liberais” franceses fossem ruins – para o autor, assim como para outros historiadores (como Pierre Rosanvallon), os liberais franceses seriam bons, a despeito de suas ações concretas e dos regimes que eles apoiaram, justificaram e legitimaram ativamente –; os políticos não liberais é que seriam ruins, mesmo que tais políticos (na III República francesa) tenham procurado agir da melhor maneira possível, de modo a estabilizar o regime, legitimá-lo, combater os reacionários e garantir as liberdades públicas. (Isso não quer dizer que a III República tenha sido perfeita: por exemplo, ela reforçou o colonialismo no Norte da África; mas por outro lado, ela conseguiu manter-se durante 70 anos, enquadrou os reacionários militares ao longo do caso Dreyfus, separou (imperfeitamente) igreja e Estado, passou pela prova duríssima da I Guerra, conseguiu manter-se relativamente ilesa da crise econômica iniciada em 1929 e ainda elegeu um governo socialista em 1936: tudo isso é muito mais do que os liberais franceses fizeram e pretenderam.) Em um aspecto o autor está certo, todavia: a concepção – democrática – de que a Assembléia Nacional seria todo-poderosa; essa idéia, em si mesma puramente democrática, já é em si mesma desastrosa e era criticada por muitos (por exemplo, Augusto Comte) desde antes da III República; no parlamentarismo – que, aliás, é o regime que se segue naturalmente dessa concepção totalitária – isso se torna desastroso. Entretanto, mesmo ao indicar o defeito congênito da democracia rousseauniana, o autor é superficial, seja porque não considera a história política e intelectual efetiva da III República, seja porque, como conseqüência do problema anterior, o autor procede dedutivamente a respeito dessa fase histórica da França.
Essa concepção curiosa que o autor defende baseia-se no seu liberalismo anticomunista. Esse liberalismo anticomunista não é de tradição estadunidense; é mais próximo do liberalismo anticomunista francês, conforme exposto e defendido por Raymond Aron (citado em muitas e elogiosas ocasiões) e, depois, retomado por François Furet. Esse liberalismo anticomunista seguia a tradição do conservadorismo britânico, à la Burke, que rejeitava os projetos de mudança racional e planejada da sociedade, bem como a visão correlata de homens aperfeiçoados: deixando de lado a necessária e correta crítica da total irresponsabilidade dos intelectuais franceses entre 1944 e 1956, o autor considera que eles estavam fadados a serem errados devido ao projeto de mudança racional e planejada do homem e da sociedade; esse projeto seria em si mesmo errado e até imoral, sendo a base para a crítica da Revolução Francesa, da III República francesa, da Revolução Russa e do que veio depois. É bem verdade que os comunistas russos fizeram o possível para estabelecer uma conexão histórica e moral entre 1917 e 1789; mas, em vez de perceber que a história da França era uma coisa e a da Rússia, outra, o autor compra a tese dos comunistas e condena em bloco todo o projeto. Aliás, mais do que isso; o liberalismo anticomunista do autor fá-lo adotar as mesmas concepções historiográficas e sociológicas de François Furet, cuja “nova história crítica” da Revolução Francesa consistia em entender os acontecimentos de 1789-1799 meramente como a sucessão de eventos sociais e políticos – eventos de grande porte, mas em si mesmos sem maiores conseqüências ou importâncias filosóficas, sociológicas e históricas; em outras palavras, para combater o determinismo materialista dos comunistas, o melhor que Furet (e, no presente caso, Judt) tem para oferecer é um historicismo hipercontextualista e politicista, que rejeita qualquer filosofia da história e qualquer filosofia do progresso do ser humano.
Resumindo em si os defeitos do livro, a postura que o autor adota a respeito de Augusto Comte e do Positivismo é exemplar: são poucas citações e referências, mas essas poucas são todas elas negativas e superficiais. Por um lado, as breves exposições que o autor faz do Positivismo são todas erradas e baseiam-se em procedimentos “dedutivos”: o autor tem uma idéia preconcebida (um preconceito, em outras palavras) e quer usar o Positivismo para ilustrar um argumento qualquer; a fim de realizar tal ilustração, ele deduz as conseqüências que lhe interessa no momento. Nenhum dos seus argumentos baseia-se em qualquer tipo de citação ou de referência – e, evidentemente, não há nenhuma do próprio Comte ou dos positivistas –, mas com freqüência, e injustificadamente, o autor associa Comte a Saint-Simon, como se o fundador do Positivismo fosse uma derivação, e uma versão piorada, do conde falido. Por outro lado, o Positivismo é mobilizado para explicar traços que interessam ao autor: por exemplo, um culto às estatísticas; entretanto, não apenas esse traço não corresponde ao Positivismo (Comte era contrário à sociometria como sinônima de Sociologia, como no projeto de Quétélet), como o autor só faz aparecer no presente traços longínquos do Positivismo se esses traços antigos forem, supostamente, negativos, mas nunca positivos; em outras palavras, todas as vezes em que ele invoca o Positivismo ele comete o vício teórico-metodológico do viés de seleção. (Além disso, o autor é incoerente, ao afirmar, no começo do livro, que no início da IV República havia uma preocupação entre muitos intelectuais com as estatísticas oficiais, mas, no final do livro, insistir na idéia de que os intelectuais buscavam manter-se ignorantes da realidade (fosse francesa, fosse estrangeira)).
No que se refere ao tema específico do livro – a exposição das imbecilidades dos intelectuais franceses entre 1944 (ou, talvez, 1940) e 1956 –, isto é, em termos de história das idéias no período subseqüente à II Guerra, o autor é muito bem-sucedido, embora haja diversas limitações, como as indicadas acima. Entretanto, assim que o autor afasta-se do tema específico do livro, as limitações indicadas ganham peso e maculam o seu esforço; sua interpretação filosófica, sociológica e histórica das fontes do irracionalismo, da irresponsabilidade e da imoralidade dos intelectuais franceses desde a década de 1930 e até, pelo menos, 1956 (mas estendendo-se até 1974) revela-se profundamente falha e insatisfatória.
O conjunto do livro deixa, então, um sabor misto, ambígüo, para o leitor. Por um lado, o núcleo duro da pesquisa do autor é importante e em linhas gerais é convincente; a crítica moral que ele realiza funciona, em termos amplos. Mas, por outro lado, a interpretação sociológico-filosófica que ele propõe das origens do problema que denuncia é fraca e, se isso não fosse pouco, a concepção que ele esposa do ser humano e da sociedade, na qual baseia a sua crítica, é ainda mais frágil e superficial (ainda que tenha alguns elementos relevantes – basicamente, a idéia moderna de que as liberdades individuais devem ser preservadas).
Anos depois, o autor pelo menos abrandaria esse liberalismo em favor da defesa de uma certa social-democracia; como o seu liberalismo não é exatamente o anglossaxão (ao estilo Tatcher-Reagan, ou Popper-Hayek-Friedman), mas segue as linhas do liberalismo conforme entendido e praticado por Aron e Furet, essa defesa posterior da social-democracia não é totalmente incoerente; mas, mesmo assim, a ênfase estrita no indivíduo (contra a sociedade) passa para o respeito às noções de coletividade e de bem público. Da mesma forma, Tony Judt tornou-se famoso por seu gigantesco livro Pós-guerra e por centenas de resenhas e comentários sobre livros e pesquisas históricas, filosóficas e políticas: não deixa de ser motivo de tristeza percebermos que uma investigação prévia que ele fez, relevante e útil em si mesma, apresenta uma quantidade enorme de falhas, limitações e equívocos.
(Vale notar que a tradução brasileira é péssima, o que também não ajuda o livro.)